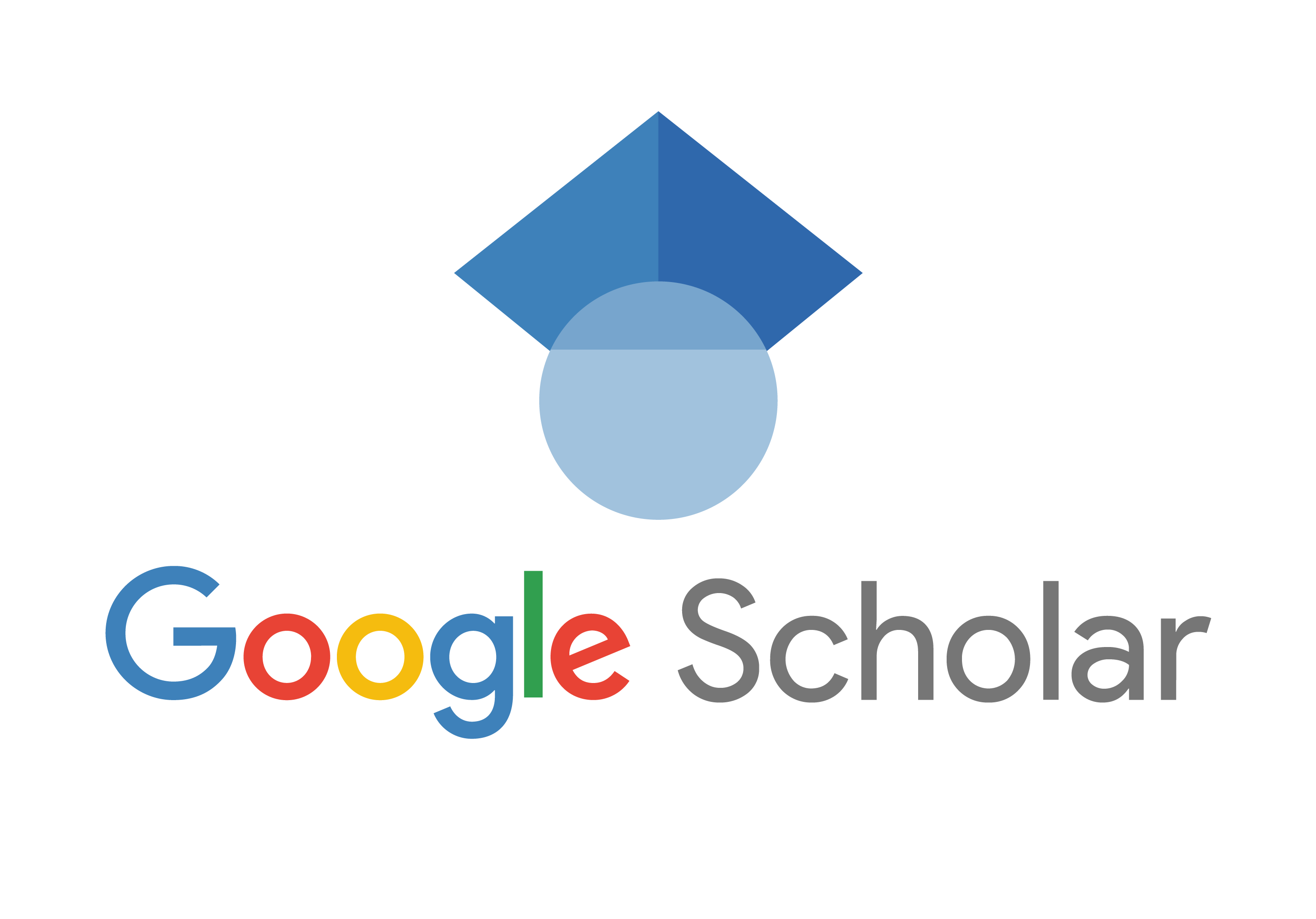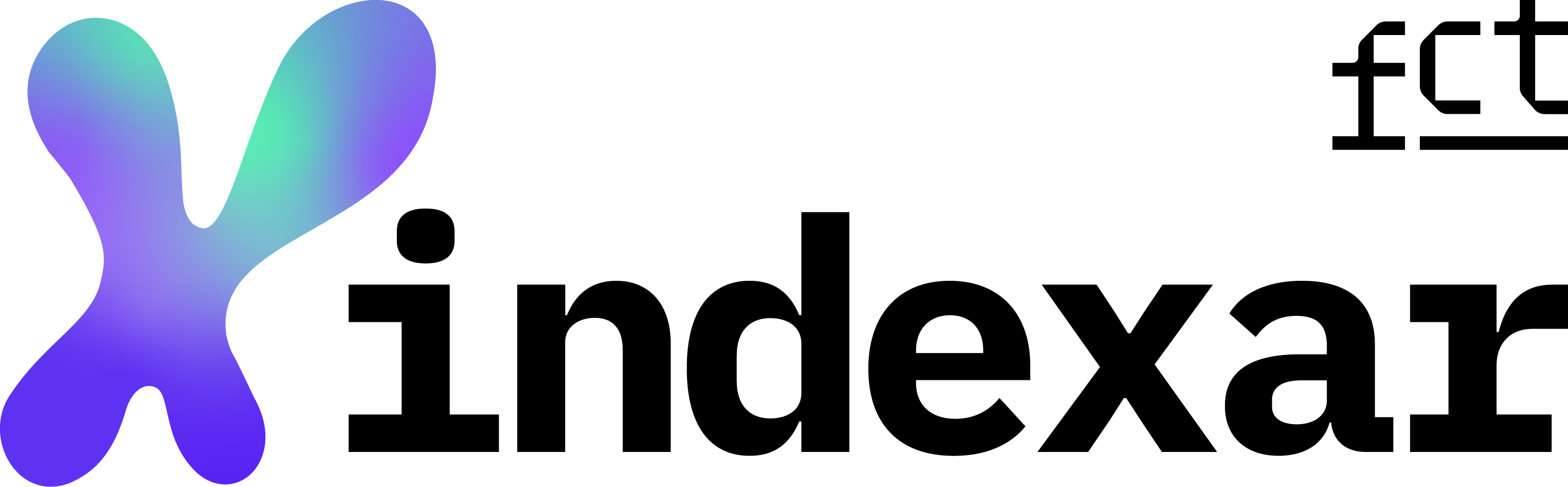Mobilização do movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade e das Questões Sociocientíficas sob lentes Freireanas na relação estabelecida entre universidade-escola
Resumo
Apresentamos uma pesquisa realizada no contexto brasileiro inserida no projeto “Futurando com ciência”, cujas ações desenvolvidas no ambiente escolar estavam centradas na discussão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 que discute aspectos relativos à ação climática em nível local e global. Nosso objetivo foi analisar o processo de colaboração estabelecido entre universidade e escola de Educação Básica no contexto do planejamento e desenvolvimento de ações escolares da Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA). Por meio do referencial teórico-metodológico da Análise Crítica do Discurso (ACD), discorremos sobre aspectos históricos, culturais, sociais e políticos das mudanças climáticas, e articulamos esta discussão com a perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), as Questões Sociocientíficas (QSC) e a educação popular no contexto da NEJA. Os resultados e as discussões consideraram falas de professores e alunos da escola básica e da universidade que são analisadas sob lentes das categorias analíticas da intertextualidade, da representação de eventos e atores sociais e da modalidade, buscando ressaltar o processo que nos levou à identificação da situação limite que surgiu na busca temática. As considerações finais destacam a potencialidade de se trabalhar as QSC e a perspectiva CTS, sobretudo ao enfatizarmos os efeitos da busca genuína pelo tema gerador, em um processo que significou o tema das mudanças climáticas na transformação dos sujeitos, sejam eles educadores ou educandos.
Downloads
Referências
Auler, D. & Delizoicov. (2006). Educação CTS: Articulação entre pressupostos do educador Paulo Freire e Referencias ligados ao movimento CTS. Les relaciones CTS en la Educación Científica.
Auler, D., & Delizoicov, D. (2001). Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio – pesquisa em educação em ciências, 3 (1), 105-115.
Brasil (2017). Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho.
Dumrauf, A., & Cordero, S. (2017). Tramas entre escuela y universidad: formación docente, innovación e investigación colaborativa. La Plata: Edulp.
Fairclough, N. (2001). A análise crítica do discurso e a mercantilização do discurso público: As universidades. In C. M. Magalhães (Org.), Reflexões sobre a análise crítica do discurso. Belo Horizonte, MG: Faculdade de Letras UFMG.
Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. 20a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
Freire, P. (2014). Educação como prática da liberdade. Editora Paz e Terra.
Herman, B. C., Zeidler, D. L., & Newton, M. (2018). Students’ emotive reasoning through place-based environmental socioscientific issues. Research in Science Education, 50, 2081-2109. doi: 10.1007/s11165-018-9764-1.
Magalhães, I.. (2005). Introdução: a análise de discurso crítica. DELTA: Documentação De Estudos Em Lingüística Teórica E Aplicada, 21(spe), 1–9.
Nacarato, A. M. (2016). A parceria universidade-escola: utopia ou possibilidade de formação continuada no âmbito das políticas públicas? Revista Brasileira de Educação, 21 (66), 1-22.
Nunes, C. M. F.. (2001). Saberes docentes e formação de professores: um breve panorama da pesquisa brasileira. Educação & Sociedade, 22(74), 27–42.
Pimenta, S. G. (2002). Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: Pimenta, S. G.; Ghedin, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez.
Reis, P. & Galvão, C. (2008). Os professores de ciências naturais e a discussão de controvérsias sociocientíficas: dois casos distintos. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. 7(3), 746 – 772.
Resende, V. M., & Ramalho, V. (2006). Análise de discurso crítica. 2ª. ed. São Paulo: Contexto.
Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41, 513– 536.
Santos, W. L. P. dos. (2008). Educação Científica humanística em uma perspectiva Freireana: Resgatando a função do ensino de CTS. Alexandria, 1(1), 109-131.
Santos, L. P., & Mortimer, E.F. (2001). Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. Revista ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências, 02 (2), 1-22.
Santos, W. L. P., & Mortimer, E. F. (2009). Abordagem de aspectos sociocientíficos em aulas de Ciências: pos- sibilidades e limitações. Investigações em Ensino de Ciências, 14(2), 191-218.
Santos, W. L. P., & Mortimer, E. F. (2016). Abordagem de aspectos sociocientíficos em aulas de ciências: possibilidades e limitações. Investigações Em Ensino De Ciências, 14(2), 191–218.
Silva, M. B. E., & Sasseron, L. H. (2021). Alfabetização científica e domínios do conhecimento científico: proposições para uma perspectiva formativa comprometida com a transformação social. Ensaio Pesquisa Em Educação Em Ciências (belo Horizonte), 23, e34674.
Torres, N.& Solbes, J. (2018). Pensamiento crítico desde cuestiones socio-científicas. In: CONRADO, D.M., and NUNES-NETO, N. Questões sociocientíficas: fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações sociopolíticas [online]. Salvador: EDUFBA.
Valladares, L. (2021). Scientific Literacy and Social Transformation. Science & Education, 30, 557–587.
Zeidler, D.l.; sadler, T. D.; simmons, M.L. & Howes, E.V. (2005). Beyond STS: A Research-Based Framework for Socioscientific Issues Education. Wiley Periodicals, Inc. Sci Ed 89, 357– 377.

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.
Os autores mantêm os direitos de autor pelo seu trabalho, cedendo os direitos de primeira publicação à revista.
A Revista Indagatio Didactica tem os requisitos da licença CC BY 4.0
Modelo da declaração de direitos de autor a ser entregue aquando da aceitação do artigo para publicação:
Declaração de direitos de autor PT | Declaração de direitos de autor EN
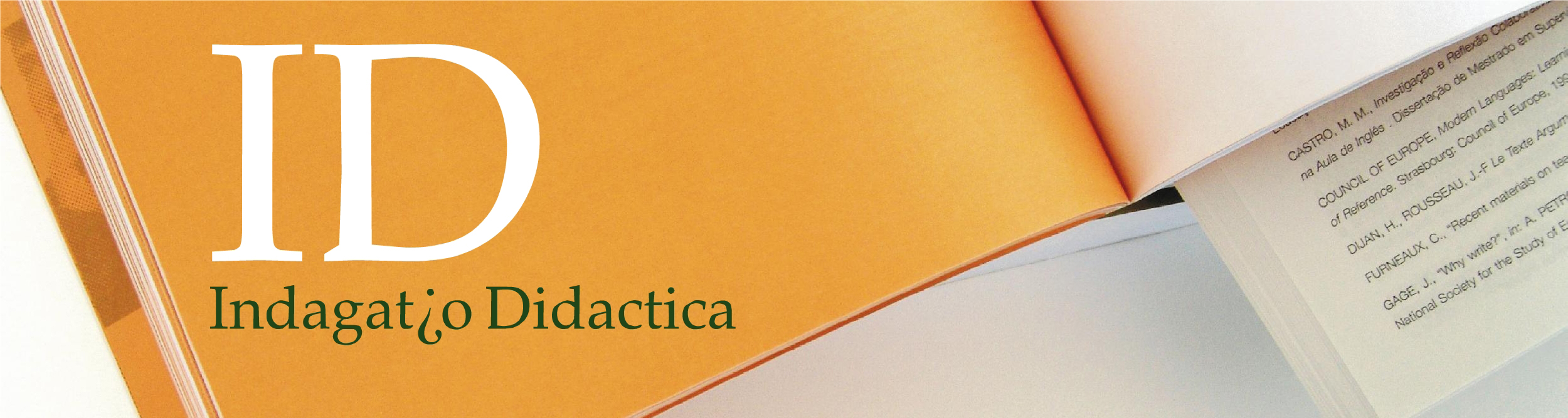


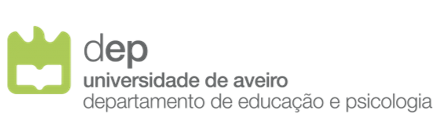

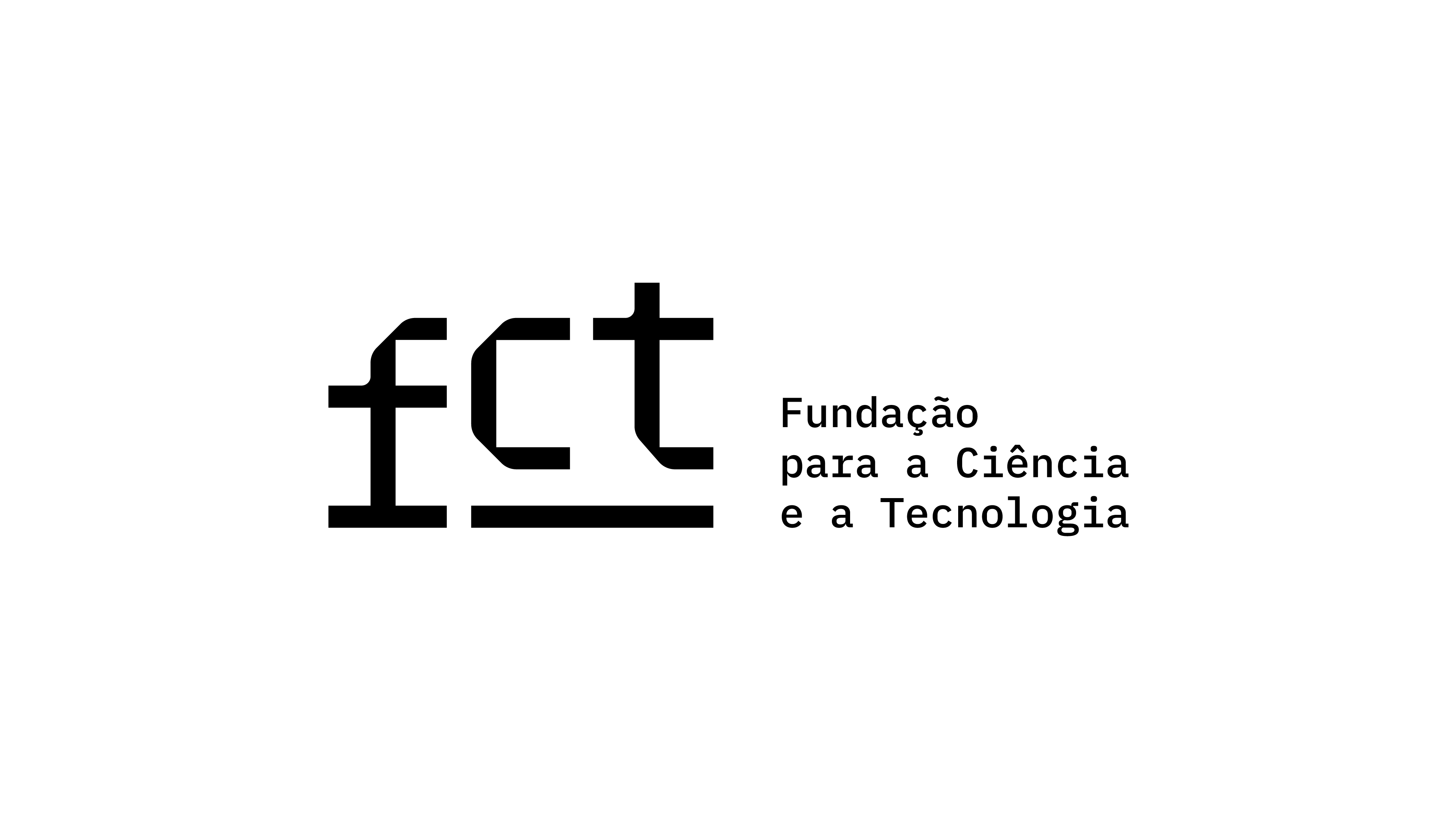 financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 (
financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 (