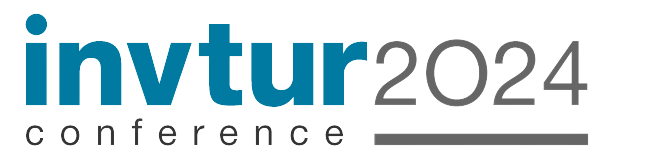Sem espaço para Clio: sensibilidade histórica e cultural dos jovens em tempos líquidos
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Resumo
Objetivos | Pretende-se compreender através de um projeto de investigação-ação levado a cabo no ano letivo de 2022-2023, em duas Escolas Superiores (Educação – ESE e Tecnologia e Gestão – ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o grau de sensibilidade e compromisso de um grupo de estudantes do ensino superior relativamente à temática da importância da História, do Património e da Identidade Cultural nas suas vidas. Para tal, foi aplicado um inquérito por questionário desenvolvido junto de um grupo de estudantes pertencentes à Licenciatura em Turismo (ESTG) e Mestrados em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e ainda em Ensino do 1º Ciclo e de Matemática e Ciências Naturais e Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico (ESE). Paralelamente, dentro do projeto Demola (Catalá-Perez et al, 2020) foi desenvolvido, com um grupo de seis estudantes dos Institutos Politécnicos de Viana do Castelo e de Coimbra (de CTESP e Licenciatura) um projeto de cocriação para motivar os jovens a interessarem-se, novamente, pelos temas históricos e pela sua identidade cultural, cujas linhas principais serão desenvolvidas neste trabalho. Esta metodologia vem sendo crescentemente utilizada no ensino superior politécnico, em Portugal (Amante & Fernandes, 2022; Costa et al, 2022; Figueiredo et al, 2021; Valduga & Balão, 2023)
Metodologia | Sendo um trabalho de investigação com feição e desenho de projeto – inspirado no modelo demola, de inspiração finlandesa – foi desenvolvido no decurso de um semestre letivo, teve como alicerces metodológicos uma abordagem de natureza qualitativa, com contributos de uma perspetiva educacional construtivista e epistemologicamente ativa, sustentada na investigação-ação de natureza participante, na grounded theory e nas grandes linhas de ação transdisciplinar das ciências sociais e humanas, nomeadamente no campo da Educação Histórica e Patrimonial, na sua relação com o Turismo. O estudo recorre, também, a técnicas importantes como a narrativa biográfica, as notas de campo/diário de bordo e a análise documental.
Principais resultados e contributos | A Educação em Turismo (Airey, 2016) – articulada com a Educação Histórica e Patrimonial (Wu, 2021) – tratando-se de uma área científica naturalmente interdisciplinar, tem emergido na literatura como um tópico relevante e substantivo (UNWTO, 2022) que importa, no entanto, aprofundar. Através da presente investigação, com o olhar fino da lente da Educação Histórica e Patrimonial (um dos vetores que nos parece fundamental numa Educação Turística Sustentável e de Qualidade), fica claro que os jovens que, atualmente, ingressam no ensino superior ou acedem ao grau de mestre (essencialmente nascidos no final da década de 1990 e inícios da década de 2000), apresentam ideias confusas e abstratas no que se refere à construção do seu pensamento histórico e não apresentam motivação em desenvolver conhecimentos e competências específicas neste domínio, tão importante para a sua valorização pessoal e profissional, num mundo cada vez mais “desfigurado” culturalmente. Resulta de um olhar mais atento e cuidado que os seus hábitos de consumo cultural – relacionados com leitura, frequência de espetáculos e exposições, visita a museus e a outros países – não parecem estar particularmente desenvolvidos, apesar de uma oferta cada vez mais ampla e, muitas vezes, ajustada economicamente (em custo) à sua faixa etária. Apesar das inegáveis oportunidades que as novas tecnologias digitais trouxeram, o seu potencial não parece estar a ser plenamente integrado na construção de uma consciência histórica e patrimonial mais intencional e ativa. Será este divórcio resultante de uma experiência passada negativa no ensino da História, nomeadamente no Ensino Básico e Secundário? Que relação estabelece a Família na vinculação patrimonial e identitária fundamental na construção do conhecimento histórico dos jovens? Estas são algumas das questões que, do nosso ponto de vista, devem ser trabalhadas na base para que as próximas gerações possam olhar para estes temas de uma forma mais motivadora e intencional, essencial no desenvolvimento de competências cidadãs e de um pensamento crítico estruturante nos tempos ameaçadoramente “líquidos” (como lhe chamou Baumann) que vivemos. Apesar do manifesto “adormecimento” e relativa falta de curiosidade no que respeita ao conhecimento do passado e de todos os desafios – e dificuldades – já elencadas, verificamos que há um potencial positivo de valorização da História e do Património que, se devidamente enquadrado, pode significar uma mudança significativa nas próximas décadas.
Limitações | Este estudo apresenta, desde logo, como limitação, a amostra que foi utilizada: no caso do questionário aplicado, tratou-se de uma amostra de conveniência, visto que foi aplicada nos alunos e turmas em que o autor deste trabalho lecionou no pretérito ano letivo. Relativamente ao projeto desenvolvido com os 6 alunos no decurso do semestre, a escolha foi feita por uma plataforma informática associada ao projeto Demola, em que a investigação foi realizada. Há também uma limitação temporal visto que o projeto se situou, marcadamente, no segundo semestre letivo do ano de 2022-2023. Algumas destas limitações procuraram ser supridas na leitura comparativa com estudos análogos de consciência histórica juvenil que foram realizadas em distintas geografias (Rusvitaningrum et al, 2018; Santos, 2021 e Syahputra & Ardianto, 2020).
Conclusões | Desde o diagnóstico da questão problema central a uma proposta de ação concreta balizada no trabalho prático com jovens universitários, concluímos que a mudança de paradigma que nos parece urgente e fundamental só poderá ocorrer dentro dos contextos familiar e escolar. A Família e a Escola compartem responsabilidades nos domínios da Educação Histórica e Patrimonial. O facto deste projeto estar enquadrado em metodologias educativas ativas de cocriação e design thinking (abordagem Demola) que propõem resposta a desafios reais da comunidade, através de uma ampla gama de competências transversais, parece-nos um caminho a seguir. Esta mudança só se operará se o trabalho for articulado e concertado entre as Escolas (de todos os níveis de ensino) e as Famílias e, por isso, também as propostas que a aprendizagem de serviço nos surgem como relevantes num verdadeiro trabalho colaborativo, dinâmico e comunitário.